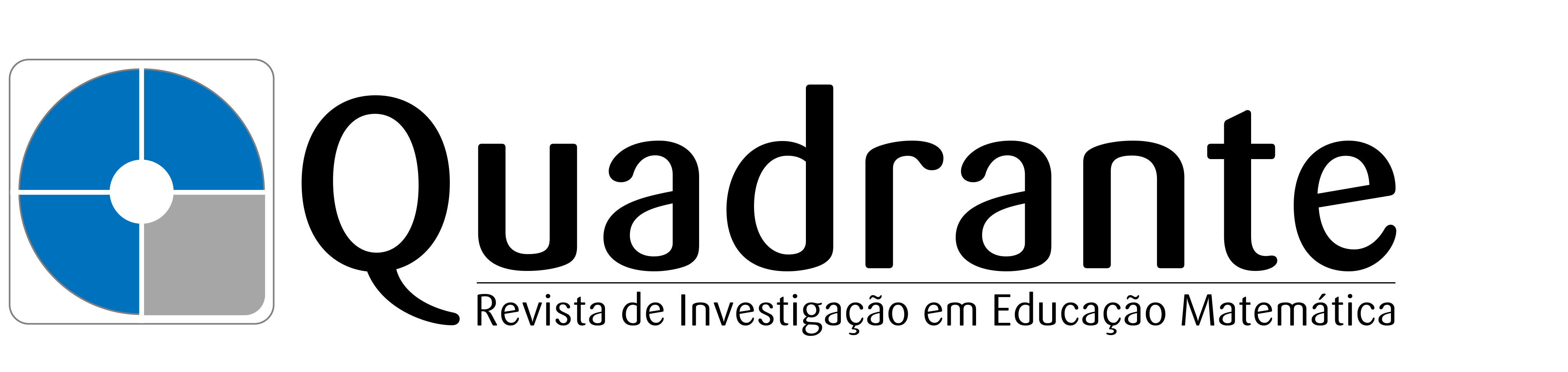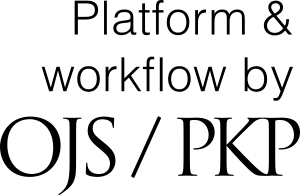Communication in the PROFMAT classroom and the principles that regulate textual productions
DOI:
https://doi.org/10.48489/quadrante.22572Keywords:
teacher education, professional master, mathematics, communication, classroomAbstract
This article aims to analyze how the principles of the pedagogical discourse of the Professional Master's Program in National Network in Mathematics (PROFMAT) regulate textual productions, paying special attention to the communication that develops in the classroom. For that, we mobilized some conceptual tools proposed by Basil Bernstein. The study followed a qualitative approach, operationalized by observing classes from three PROFMAT disciplines, which gave us evidence of the communication patterns present in the training course. To analyze the data, we used Basil Bernstein's description language in sociological investigation as methodological posture. We took as a reference the ‘what’ and ‘how’ communication was mobilized to build our analysis that was fed back by theory and empiricism. The results indicate that there is a need to reflect on the forms of communication that are established in PROFMAT classrooms in order to contemplate demands arising from school mathematics. That does not mean that the Program should be restricted to texts that already circulate in the school context, but that should take them as a starting point for problematization and expansion, without losing the link with the know-how in Basic Education. For this, it is necessary to consider collaborative and transversal communication in the context of training.
References
Adler, P. A., & Adler, P. (1994). Observational techniques. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (pp. 377–392). Thousand Oaks, CA: Sage.
Bastos, P. N. (2018). Comunicação, interação e engajamento: fronteiras epistemológicas e alcances político. Anais do 4th Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Vol. 1, pp. 1095-1110), Joinville, Santa Catarina, Brasil. Recuperado de http://www.intercom.org.br/sis/eventos/2018/resumos/R13-1095-1.pdf
Bernstein, B. (2003). Class, codes and control: the structuring of pedagogic discourse. London: Routledge Taylor & Francis Group.
Bernstein, B. (2000). Pedagogy, symbolic control and identify: theory, research, critique. Lanham: Rowman & Littlefield.
Bernstein, B. (1996). Pedagogía, control simbólico e identidad: teoria, investigación y critica (traduzido do inglés). Madrid: Morata.
Breda, A., & Lima, V. M. do R. (2017). Estudio de caso sobre el análisis didáctico realizado en un trabajo final de un máster para profesores de matemáticas en servicio. Journal of Research in Mathematics Education, 5(1), 74-103.
Caldatto, M. E., Pavanello, R. M., & Fiorentini, D. (2016). O PROFMAT e a Formação do Professor de Matemática: uma análise curricular a partir de uma perspectiva processual e descentralizadora. Bolema, 30(56), 906-925.
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) (2017). PROFMAT: uma reflexão e alguns resultados. Rio de Janeiro, RJ.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. (2.ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Cyrino, M. C. C. T., Garcia, T. M. R., Oliveira, L. M. C. P., & Rocha, M. R. (2014) (Org.). Formação de professores em Comunidades de Prática: frações e raciocínio proporcional. Londrina, Brasil: Universidade Estadual de Londrina.
Diniz-Pereira, J. (2010). Formação continuada de professores. In D. A. Oliveira, A. C. Duarte & L. F. Vieira (Eds.), Dicionário de Trabalho, profissão e condição docente (pp. 20-33). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais.
Domingues, C., & Martinho, M. H. (2014). Ações do Professor na construção coletiva de um argumento genérico numa turma do 9º ano. In J. P. Ponte (Org.), Práticas Profissionais dos Professores de Matemática (pp. 183-213). Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Farias, J. V., & Vilela, D. S. (2017). O curso de mestrado profissional em matemática em rede nacional à luz da teoria de Bourdieu: tensões entre matemática acadêmica e matemática escolar. Revista Educação, 22(1), 109-129.
Fiorentini, D., & Crecci, V. (2013). Desenvolvimento profissional docente: um termo guarda-chuva ou um novo sentido à formação? Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores, 5(8), 11-23.
Freire, P. (2006). Extensão ou comunicação? São Paulo, SP: Paz e Terra.
Gatti, B. (2008). Análise das políticas públicas para formação continuada no Brasil, na última década. Revista Brasileira de Educação, 13(37), 57-186.
Guerreiro, A., Ferreira, R. A. T., Menezes, L., & Martinho, M. H. (2015). Comunicação na sala de aula: a perspectiva do ensino exploratório da matemática. Zetetiké, 23(44), 279-295.
Jupp, V. (2006). The Sage Dictionary of Social Research Methods. Thousand Oaks: Sage.
Mattelart, A., & Mattelart, M. (2011). História das Teorias das Comunicações (14ª ed.). São Paulo: Loyola.
Ministério da Educação (2014). Planejando a próxima década: conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Brasília, DF: Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino. Recuperado de http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf
Menezes, L., Ferreira, R., Martinho, M. H., & Guerreiro, A. (2014). Comunicação nas práticas letivas dos professores de Matemática. In J. P. Ponte (Org.), Práticas Profissionais dos Professores de Matemática (pp. 135-161). Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Morais. A. M, & Neves. P. N. (2007). A teoria de Basil Bernstein: alguns aspectos fundamentais. Práxis Educativa, 2(2), 115 -130.
Nacarato, A. M (2016). A parceria universidade-escola: utopia ou possibilidade de formação continuada no âmbito das políticas públicas? Revista Brasileira de Educação, 21(66), 699-716.
Neto, S. C. G., & Gouveia, C. T. G. (2015). Diálogo e Aprendizagem em Educação Matemática: um olhar sobre a Obra de Alro e Skovsmose. Revista Multidisciplinar em Educação, 2(3), 159-166.
Quaresma, M., & Ponte, J. P. (2014). A comunicação na sala de aula numa abordagem exploratória no 5.º ano. In J. P. Ponte (Org.), Práticas Profissionais dos Professores de Matemática (pp. 165-182). Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Planas, N., Morgan, C., & Schütte, M. (2018). Mathematics education and language: Lessons and directions from two decades of research. In T. Dreyfus, M. Artigue, D. Potari, S. Prediger, & K. Ruthven (Eds.), Developing research in mathematics education. Twenty years of communication, cooperation and collaboration in Europe (pp. 196-210). New York: Routledge.
Prada, E. A., Freitas, T. C., & Freitas, C. (2010). A. formação continuada de professores: alguns conceitos, interesses, necessidades e propostas. Revista Diálogo Educação, 10(30), 367-387.
Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) (2016). Regimento do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT. Rio de Janeiro, RJ: SBM.
Ribeiro, F. P. (2013). Paulo Freire na comunicação e os meios de “comunicados”. Rizoma, 1(2), 78-91.
Santana, F. C. de M., Grilo, J. P., & Barbosa, J. C. (2018). Tensões entre os textos movidos da matemática escolar e o discurso pedagógico do PROFMAT. In Anais do 7th Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. Foz do Iguaçu, PR, Brasil.
Santana, F. C. de M., & Barbosa, J. C. (2018). As relações pedagógicas em um trabalho colaborativo envolvendo professores de matemática: do conflito à gestão. In M. C. de C. T. Cyrino (Org.), Temáticas emergentes de pesquisas sobre a formação de professores que ensinam matemática (pp. 19-42). Brasília: SBEM.
Torisu, E. M. (2014). Diálogo em sala de aula de Matemática: uma forma de comunicação na cooperação investigativa. In Anais do 1st Simpósio Educação Matemática em Debate (vol. 1, pp. 266-278). Joinville: UDESC.
Viseu, F., & Ponte, J. P. (2012). A Formação do Professor de Matemática, apoiada pelas TIC, no seu Estágio Pedagógico. Bolema, 26(42), 329-357.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 Quadrante

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright (c) belongs to Quadrante. Nevertheless, we encourage articles to be published in institutional or personal repositories as long as their original publication in Quadrante is identified and a link to the journal's website is included.